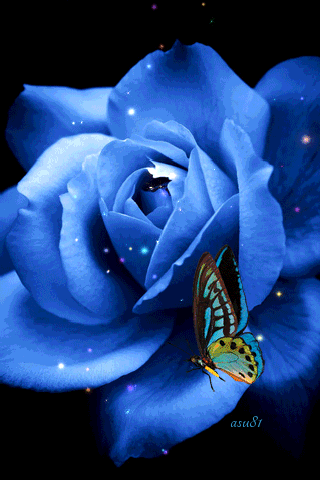CAIRBAR SCHUTEL, A LUZ QUE ILUMINOU MATÃO E O MUND
Crônica Espírita
* Enoque Alves Rodrigues
1. A Manhã em Matão
Amanhecer em Matão sempre foi evento discreto, desses que se anunciam devagar, como quem não quer comprometer o ritmo de ninguém. Mas quem observasse com atenção perceberia um movimento singular, quase ritualístico, que se repetia com a precisão de um relógio: Cairbar Schutel saía de casa antes que o sol tomasse coragem para subir. Os vizinhos, ainda embrulhados no sono, sabiam que o dia tinha começado não pela claridade, mas pelo som brando dos sapatos de Cairbar tocando o chão de terra batida. Havia algo quase musical naquela caminhada, como se cada passo afinasse o espírito da cidade para o que estava por vir.
Ele cumprimentava tudo — o nada, o silêncio, a expectativa pendurada nas folhas das árvores. Não precisava de interlocutores; bastava-lhe a ideia de que a vida acontecia também nas miudezas. Às vezes parava diante da praça, observando o banco onde velhos contavam histórias e onde crianças, no futuro, aprenderiam a correr. Outras vezes passava pela farmácia, que ainda dormia, mas onde sua presença era tão constante que parecia ter impregnado o cheiro de ervas e remédios.
Era um homem que percebia a poesia das coisas simples: o galo afoito, a carroça que rangia ao longe, a neblina que parecia proteger a cidade do mundo. E, no entanto, carregava um ar de pressa silenciosa, como quem tem compromissos não só com o relógio, mas com a própria alma. Aquela rotina matinal não era só hábito; era preparação. Antes de lidar com pessoas, com pensamentos, com palavras, ele conversava consigo mesmo. Talvez conversasse até com algo maior.
Assim, Matão despertava gradualmente sob a vigília de Cairbar, e, quando o sol finalmente surgia, já encontrava a cidade alinhada em suas intenções. O amanhecer acontecia em dois atos: primeiro, no compasso dos passos de Cairbar; depois, na claridade comum que iluminava a todos. Para muitos, ele era apenas um homem. Para a cidade, era o prelúdio dos dias.
2. O Homem das Letras e da Luz
Quem entrasse na tipografia d’O Clarim na época de Cairbar não saía indiferente. Havia ali um amontoado de papéis, tipos móveis, ruídos metálicos e cheiro de tinta que parecia grudar na alma mais do que nas mãos. No centro daquele caos organizado, encontrava-se ele: atento, sereno, e ao mesmo tempo tomado por uma inquietação produtiva. Cairbar escrevia como quem acende lamparinas. Cada artigo, cada editorial, cada parágrafo parecia carregar uma centelha capaz de atravessar o tempo.
Não é exagero dizer que ele era um homem que tratava a palavra com reverência. Não porque aspirasse grandeza, mas porque sabia da responsabilidade de pensar em público. Seus textos não eram apenas argumentos — eram pontes. Conectavam o leitor ao desconhecido, ao invisível, ao espiritual, mas também à ética do cotidiano. Falava de espírito e ciência como quem fala de vizinhos que se encontram na esquina: diferentes, mas convivendo.
Dentro da redação, ele revisava textos com os olhos de quem busca harmonia. O som da máquina tipográfica ritmava sua respiração. Entre uma pausa e outra, conversava com os colaboradores, distribuindo ideias como quem distribui sementes. Não exigia que todos concordassem; exigia apenas que pensassem. E pensar, naquela Matão ainda pequena, era um ato revolucionário.
O Clarim, nascido quase clandestinamente, ganhou o mundo pelas mãos de um homem que acreditava que luz não se guarda — se espalha. As folhas impressas viajavam longe, carregadas por trem, por correio, por mãos curiosas que as levavam a outras mãos. Sem perceber, Cairbar transformou sua tipografia num farol. E o farol, uma vez aceso, não se apaga por acidente. Era um convite: olhem para dentro, olhem além, olhem em direção ao que às vezes não sabemos nomear, mas sentimos.
Assim, as letras de Cairbar não só iluminavam: aqueciam. E Matão, que antes era só uma cidade como tantas, tornava-se, página a página, um lugar onde a palavra tinha força suficiente para modificar destinos.
3. As Reuniões Silenciosas
As noites em Matão tinham um brilho próprio, meio sépia, meio ouro velho. Enquanto a cidade reduzia o ritmo, como se respirasse mais devagar, uma pequena casa se iluminava com um tipo de claridade que não vinha exatamente das lâmpadas. Ali, Cairbar se reunia com aqueles que buscavam compreender o que há por trás do visível. As cadeiras eram simples, o ambiente singelo, e ainda assim muitos sentiam que entravam num outro território — meio terreno, meio etéreo.
Não havia proclamações exaltadas. Não havia espetáculos. Quem procurava sensacionalismo voltava para casa desapontado. A força daquelas reuniões não estava no que acontecia aos olhos, mas no que acontecia dentro de cada um. Cairbar falava com calma, quase como quem dialoga com uma criança para explicar um tema difícil, sem impor, sem assustar, sem criar hierarquias. Falava da alma com a naturalidade de quem fala do corpo; falava da morte como quem fala de uma viagem para outra cidade — não uma despedida absoluta, apenas mudança de endereço.
A cada encontro, almas inquietas se assentavam, e espíritos fatigados encontravam conforto. Havia quem chorasse em silêncio, quem anotasse tudo freneticamente ou quem apenas deixasse as palavras se acomodarem em lugares profundos que ainda não tinham nome. Cairbar observava todos com paciência. Ele parecia enxergar além do gesto visível, como se estivesse menos preocupado com o que cada um dizia e mais atento ao que cada um precisava.
Eram noites cheias de pausas. Pausas cheias de significado. Pausas em que todos pareciam ouvir algo que não vinha do ambiente. A vibração do grupo — como mais tarde muitos diriam — era tangível, quase palpável. Quando as reuniões terminavam, ninguém saía abruptamente. As pessoas se levantavam devagar, como se o corpo precisasse reaprender a gravidade do mundo lá fora.
Cairbar, último a sair, apagava lentamente as luzes. Mas mesmo com as lâmpadas apagadas, algo continuava aceso — no ambiente e dentro dos presentes. Era esse tipo de luz que ele parecia perseguir. E que, sem esforço aparente, distribuía.
4. A Cidade Agradecida
Com o passar dos anos, Matão foi percebendo que conviver com Cairbar era, de algum modo, conviver com um tipo singular de benevolência ativa. Ele não era apenas o farmacêutico que sabia preparar remédios, mas o conselheiro de quem buscava alívio para dores não catalogadas em bulas. Quem entrava em sua farmácia saía não apenas medicado, mas compreendido. Ele escutava como poucos — não buscava respostas rápidas, mas entendimentos profundos.
Cairbar tornou-se uma figura de atravessamento: conversava com católicos, protestantes, espíritas, céticos, curiosos e até com os rabugentos da cidade. Para cada um tinha a mesma postura: respeito. E respeito, naquela época, era produto raro. Não se importava com divergências; importava-se com pessoas. E por isso os laços que criava eram duradouros.
As crianças o cumprimentavam na rua com entusiasmo; os adultos o viam com confiança; os idosos o tratavam como alguém que, por alguma razão misteriosa, já nascera sábio. Ele participava da vida da cidade sem se impor, sem buscar destaque. Bastava sua presença, sua maneira de estar no mundo.
Com o tempo, Matão começou a adotar uma atmosfera diferente, quase imperceptível, mas presente: mais diálogo, mais interesse pelo estudo, mais compaixão. Era como se uma parte da cidade tivesse acordado para o fato de que convivência também se aprende. E Cairbar, sem nunca assumir esse papel oficialmente, tornou-se professor dessa aprendizagem silenciosa.
Dizem que uma cidade é feita, acima de tudo, pelas pessoas que a influenciam. E se isso é verdade, Matão nunca mais foi a mesma após Cairbar. Não porque ele revolucionou a política, a estrutura urbana ou a economia — nada disso. Ele revolucionou as relações humanas. E quando alguém melhora a forma como as pessoas se tratam, melhora também o futuro da cidade inteira.
Assim, Matão, pouco a pouco, aprendeu a agradecer. Não com cerimônias, mas com gestos. Com os olhos que brilhavam quando falavam dele. Com as portas que se abriam quando ele passava. Com o silêncio respeitoso que sempre o acompanhava.
5. Depois da Última Página
Há vidas que terminam no dia da morte. Há outras que começam a se multiplicar a partir dela. A de Cairbar pertence ao segundo tipo. Mesmo após sua partida, algo permaneceu vivo como fogo que se recusa a apagar. Não era lembrado apenas como fundador de instituições, autor de livros, editor de jornais — mas como alguém que tinha a rara capacidade de tocar o invisível dentro das pessoas.
Seus textos continuaram circulando. Suas ideias continuaram sendo estudadas. Seu nome, mesmo décadas depois, era citado com a mesma naturalidade de quem fala de um conhecido recente. Cairbar se tornou menos personagem histórico e mais presença espiritual — não no sentido místico, mas no sentido humano. Sua influência não se desfez, apenas se transformou.
Quem abre um livro seu hoje sente algo familiar, como se o texto tivesse sido escrito ontem. Há uma atualidade persistente em suas reflexões, uma sinceridade que resiste ao tempo. E quem visita Matão com olhos atentos talvez perceba que a cidade guarda traços dele nos detalhes: na simplicidade das ruas, na gentileza de alguns moradores, na curiosidade intelectual que brota onde menos se espera.
É como se Cairbar tivesse deixado sinais para serem encontrados por quem caminha devagar, por quem sabe observar. Seus passos madrugadores ainda parecem ecoar em certas manhãs mais silenciosas. Em certos instantes, alguém pode até sentir que ele passa ao lado, discreto, carregando algum jornal recém-impresso, pronto para iluminar outra mente.
Muitos dizem que sua maior obra não é um livro, nem um jornal, nem uma instituição — é a soma de todas as consciências despertadas por ele. Aquelas que, tocadas por suas palavras ou por sua presença, decidiram também iluminar. Pois, no fim das contas, Cairbar Schutel nos ensinou isso: que a última página não existe. Existe apenas a continuidade do que se escreve com o coração.
* Enoque Alves Rodrigues - Espírita