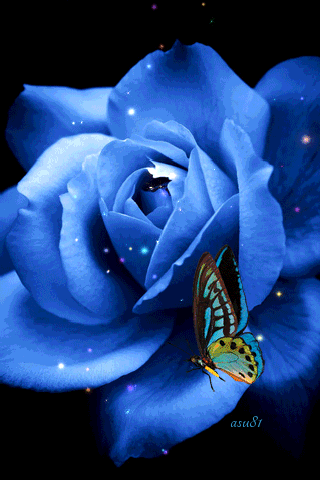PARTE III — O QUARTO ONDE O MUNDO ENTRAVA
O quarto de Jerônimo não era grande. Nunca foi. Mas, com o tempo, tornou-se maior que muitas salas cheias. Havia ali uma cama, alguns livros, uma janela que emoldurava o dia, e uma presença que reorganizava o espaço. Quem entrava sentia, quase de imediato, que precisava diminuir o passo. A pressa não passava pela porta.
O mundo vinha até ele. Literalmente. Pessoas de cidades diferentes, histórias pesadas, esperanças improvisadas. Alguns chegavam por curiosidade, outros por desespero, outros ainda empurrados por uma fé cansada. Poucos sabiam exatamente o que buscavam. Quase ninguém saía igual.
Jerônimo recebia como podia. Às vezes falava pouco. Às vezes apenas ouvia. Havia dias em que o corpo não permitia mais que um aceno de cabeça, um olhar prolongado, um silêncio compartilhado. E, ainda assim, aquilo bastava. O quarto parecia absorver o excesso de palavras que o mundo gastava inutilmente.
Não havia promessas ali. Isso surpreendia. Em um ambiente religioso, muitos esperavam milagres, revelações, previsões. Jerônimo oferecia outra coisa: realidade com profundidade. Ele não tirava a dor de ninguém. Mas tirava a solidão da dor — e isso, para muitos, era mais raro.
A cama ficava encostada na parede. Dela, Jerônimo enxergava a porta. Gostava de ver quem chegava. Observava o jeito de entrar, o cuidado com o corpo, o olhar que primeiro se desviava e depois voltava. Sabia exatamente o momento em que o visitante parava de vê-lo como “o aleijado” e começava a vê-lo como alguém. Esse instante, quase imperceptível, era uma pequena vitória.
Falava-se de espiritismo, sim. Mas falava-se mais de vida. De escolhas erradas, de culpas antigas, de medos futuros. Jerônimo não respondia como quem tem respostas prontas. Ele devolvia perguntas. Perguntas que ficavam, que incomodavam, que acompanhavam o visitante na saída.
Alguns vinham esperando consolo e saíam responsabilizados. Outros vinham culpados e saíam aliviados. Jerônimo tinha essa habilidade estranha de não reforçar ilusões nem destruir esperanças. Ele ajustava o foco. Fazia ver o que estava fora do lugar.
O quarto virou um ponto de parada em vidas muito maiores que ele. E, ainda assim, ninguém sentia que estava perdendo tempo ali. Ao contrário. Havia a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, o tempo estava sendo usado corretamente.
Jerônimo não se colocava como exemplo, mas tornava-se um. Não por superioridade moral, mas por coerência. O discurso e a vida não brigavam entre si. O que ele dizia, ele vivia — mesmo quando viver doía.
À noite, quando o quarto esvaziava, o silêncio voltava com força. Era nesse momento que o peso se fazia sentir com mais clareza. Não havia plateia, não havia troca, não havia propósito visível. Apenas o corpo cansado, a dor persistente, a mente desperta demais. Eram horas longas, densas, onde a fé precisava ser mais que ideia.
E ela era. Não como certeza absoluta, mas como escolha renovada. Jerônimo não tinha garantias. Tinha confiança. Confiar, para ele, não era esperar resultados, mas continuar caminhando — mesmo sem pernas.
O quarto fechava a porta.
O mundo continuava.
Mas algo, em quem passara por ali, já não era o mesmo.
PARTE IV — O GIGANTE QUE SUSTENTAVA O CÉU
Com o passar dos anos, o corpo de Jerônimo tornou-se quase todo limite. Os movimentos rarearam, a voz perdeu força, o fôlego passou a ser contado. Para quem via de fora, era evidente: o fim se aproximava. Para ele, porém, havia outra percepção em curso. Não de despedida, mas de ajuste fino.
Era como se a vida estivesse reduzindo o volume do mundo exterior para ampliar a escuta interior.
Jerônimo já não falava tanto quanto antes. As palavras passaram a ser escolhidas com cuidado quase artesanal. Cada frase precisava valer o esforço que exigia do corpo. E, curiosamente, quanto menos ele falava, mais peso tinham suas falas. Não havia desperdício. Não havia pressa. Havia precisão.
Quem se aproximava naquele período percebia algo diferente. Não era tristeza. Também não era resignação passiva. Era uma presença profunda, densa, como se Jerônimo estivesse ancorado em algo invisível, mas absolutamente real. Ele parecia sustentar o próprio céu — e, às vezes, o céu de quem chegava desabando.
O sofrimento físico atingira níveis que não cabem em descrição honesta. Havia dores que não cediam, noites que não passavam, dias que pareciam feitos de uma única hora repetida. Ainda assim, não se ouviam dele queixas amargas. Não porque não existissem motivos, mas porque ele havia compreendido algo essencial: reclamar não diminui a dor; apenas a espalha.
Jerônimo não negava o sofrimento. Ele o atravessava com dignidade.
Nesse período, muitos perguntavam como ele conseguia. Esperavam fórmulas, explicações espirituais complexas, algum segredo elevado. Ele respondia de forma quase frustrante para quem buscava atalhos: “Um dia de cada vez.” Às vezes, completava: “E alguns dias, uma hora de cada vez.”
A grandeza de Jerônimo nunca esteve em feitos extraordinários, mas na fidelidade ao pequeno. Permanecer. Respirar. Não desistir do humano. Não endurecer. Não transformar a dor em desculpa para ferir o mundo. Isso, sim, era heroísmo silencioso.
O Gigante Deitado sustentava mais do que parecia possível. Sustentava perguntas sem resposta. Sustentava a própria fragilidade sem se odiar por ela. Sustentava a fé sem exigir garantias. Sustentava os outros sem se colocar acima.
Havia algo profundamente desarmador em vê-lo ali, quase imóvel, enquanto tanta gente saudável desperdiçava movimento, tempo e oportunidade. Jerônimo nunca fez essa comparação em voz alta. Mas ela acontecia dentro de quem o visitava. E doía. Doía de um jeito produtivo.
Ele costumava dizer, com um leve sorriso no olhar, que o corpo havia se tornado pequeno demais para o espírito. Não como metáfora bonita, mas como constatação prática. O espírito queria ir, servir, expandir. O corpo dizia não. E, nesse conflito, ele aprendeu a servir exatamente onde estava.
Quando já não podia mais receber visitas com frequência, o quarto silenciou de vez. Mas o silêncio não era vazio. Era pleno. Jerônimo parecia conversar com algo que os outros não viam. Não por delírio, mas por intimidade com o invisível.
O gigante permanecia deitado.
Mas já estava em pé por dentro.
PARTE V — QUANDO O GIGANTE SE LEVANTA
A morte não chegou como inimiga. Chegou como continuidade.
Para quem acompanhou Jerônimo até o fim, houve tristeza, sim. Mas não houve desespero. A sensação era estranha, quase paradoxal: perdia-se o homem, mas permanecia a presença. O corpo finalmente cedia — e, com ele, a última prisão.
O Gigante Deitado levantou-se.
Não houve espetáculo. Nenhum fenômeno visível. Nenhuma ruptura dramática. Apenas a cessação da dor, como quem fecha um livro já compreendido. A vida física cumprira seu papel. Tudo o que precisava ser vivido ali, havia sido.
Jerônimo deixou um legado que não cabe em biografias formais. Não fundou instituições. Não acumulou bens. Não deixou discursos gravados. Deixou algo mais raro: gente transformada. Consciências deslocadas do lugar confortável. Olhares mais humildes diante da própria existência.
O gigante levantou-se nos outros.
Cada pessoa que aprendeu a sofrer sem se embrutecer.
Cada pessoa que entendeu que dignidade não depende de eficiência física.
Cada pessoa que passou a tratar a própria dor com mais respeito — e a dor alheia com mais cuidado.
Jerônimo Mendonça ensinou, sem querer ensinar, que a grandeza humana não está na ausência de limites, mas na maneira como se vive dentro deles. Que o espírito não se mede pelo que faz, mas pelo que sustenta. Que é possível estar imóvel e, ainda assim, mover o mundo.
Hoje, quando se fala no Gigante Deitado, não se fala de pena.
Fala-se de reverência.
Porque alguns espíritos não vieram para correr.
Vieram para ancorar.
E, ancorados na dor, mostraram o caminho da elevação.
EPÍLOGO — OS EXEMPLOS QUE FICARAM
Jerônimo Mendonça não deixou lições escritas em forma de mandamentos. Deixou exemplos vivos, gravados no cotidiano, no silêncio, na forma como atravessou a própria existência. Seu maior ensinamento nunca esteve nas palavras que disse, mas na maneira como viveu aquilo que muitos apenas discursam.
Ele nos deixou o exemplo da força verdadeira — não a que vence pela imposição, mas a que resiste sem perder a ternura. Uma força que não depende de músculos, mas de sentido. Que não grita, não agride, não se exibe. Apenas permanece.
Deixou-nos a coragem silenciosa, aquela que não aparece nos aplausos, mas se revela ao acordar todos os dias sabendo que a dor continuará ali. A coragem de não desistir da vida mesmo quando o corpo parece desistir de nós. A coragem de continuar acreditando no bem quando seria compreensível endurecer.
Ensinou, sobretudo, o que é perseverar na doença. Não como quem nega o sofrimento, mas como quem se recusa a ser reduzido por ele. Jerônimo mostrou que a enfermidade pode limitar o corpo sem aprisionar o espírito; que é possível estar doente sem se tornar amargo, frágil sem se tornar pequeno.
Sua vida foi uma aula profunda de resiliência. Não a resiliência vazia dos slogans modernos, mas a que nasce da convivência diária com o limite. A capacidade de adaptar-se sem perder identidade. De aceitar o que não pode ser mudado sem abandonar o que ainda pode ser vivido: o amor, o cuidado, a escuta, a presença.
Jerônimo nos deixou, acima de tudo, um exemplo raro de amor. Um amor sem utilidade, sem troca, sem exigência. Amor que acolhe, que escuta, que respeita o tempo do outro. Amor que não cura corpos, mas sustenta almas. Amor que se oferece mesmo quando quase nada mais se pode oferecer.
E deixou-nos uma fé madura. Não a fé que exige milagres, mas a que confia mesmo sem garantias. Uma fé que não pergunta “por quê?”, mas “para quê?”. Fé que não negocia com Deus, mas caminha com Ele — inclusive nos dias em que o chão dói.
O Gigante Deitado levantou-se, sim.
Levantou-se dentro de cada um que aprendeu, com ele, que viver não é apenas mover-se, mas dar sentido ao que se vive.
Porque há existências que passam rápidas e deixam pouco.
E há aquelas, como a de Jerônimo Mendonça,
que permanecem.
Não pelo corpo que se deitou,
mas pelo espírito que nunca caiu.
* Enoque Alves Rodrigues